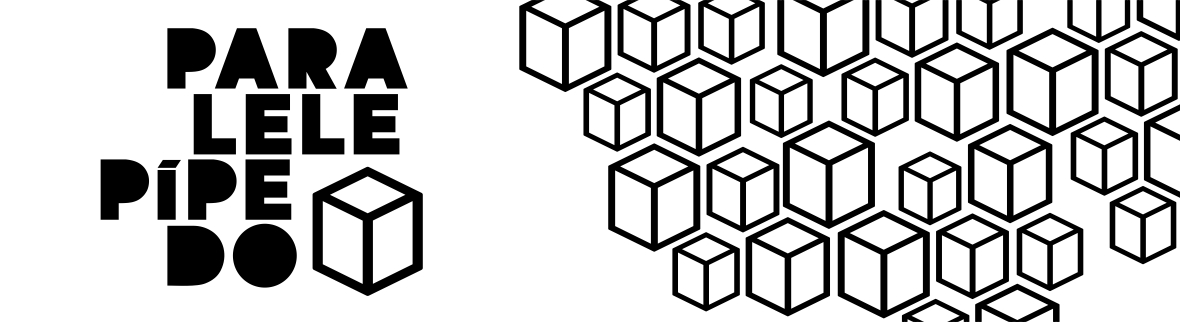Parecia a cabeça de uma boneca velha, dessas que as pessoas jogam no lixo: os cabelos louros espetados, o rosto retorcido, como se tivesse pertencido a uma criança endiabrada. Tudo coberto por barro vermelho. Seus membros dispostos num arranjo muito esquisito. Aliás, este pensamento sempre me ocorre até hoje: por que quando alguém cai morto o faz sempre numa posição tão estranha? Mas naquele tempo eu ainda não tinha visto nenhuma pessoa morta, o que aumentava ainda mais minha perplexidade. Mal sabia que décadas depois eu também acabaria envolvido num assassinato.
Os curiosos já começavam a se aglomerar em volta da valeta onde o corpo da guria estava jogado, envolto por uma delicada camada branca de gelo, resultante da geada da noite anterior, que se misturava ao vermelho barrento da terra. Ao seu lado uma pedra bastante volumosa e pontiaguda. Poderia até dizer que a cena apresentava certa harmonia, produzindo uma paz ao mesmo tempo perturbadora. Quando observei com um pouco mais de atenção, pude perceber uma pequena mágoa em sua fronte, quase escondida entre os cabelos – um coágulo rosáceo que desabrochava, cuja cor se confundia com a do solo que a cobria.
O medonho espetáculo era-nos apresentado no exato limite que separava as últimas construções do bairro de um enorme terreno descampado – salpicado por alguns pontos de mato – que estava localizado quase no centro do pequeno município metropolitano. Era o período das férias escolares do meio do ano, então toda a gurizada se acotovelava entre os adultos para conseguir um melhor ângulo de visão. Num pequeno bairro periférico, era preciso inventar formas de contornar o tédio, que se alastrava como erva daninha, quando não se tinha aula nem qualquer outra coisa para driblar a ociosidade. Os adultos desempregados e os que realizavam alguns bicos esporádicos encontravam distração nos botecos, sempre movimentados; as crianças, pelo menos algumas delas, ainda não o podiam. Acho que eu tinha uns dez ou onze anos, quando a morte da guria aconteceu, e certamente não me encontrava numa situação melhor do que a de meus vizinhos.
Minha mãe passava o dia inteiro trabalhando, como empregada doméstica, na casa das famílias mais abastadas da região. Ela tinha seis filhos e já era viúva aos trinta e poucos anos. Se bem que quando meu pai ainda estava vido as coisas não eram muito melhores. Assolado por um ciúme patológico, para se certificar de que minha mãe realmente estava onde dizia estar, ele passava os dias rondando a frente das casas em que ela trabalhava. Obviamente sempre estava onde havia dito que estaria. E se matava de tanto trabalhar enquanto ele passava os dias pelos bares, bebendo, em jogatinas e arrumando mais filhos fora do casamento. Quando meu pai morreu, antes dos quarenta anos, minha mãe pôde descansar, pelo menos da violência que sofria diariamente de sua parte. Em compensação, se viu sozinha com uma escadinha de filhos. Agora passávamos o dia nos virando como podíamos. Os mais velhos trabalhavam naquilo que aparecia – servente de obras, vendedor de picolés... –, os menores cuidavam das tarefas da casa e dos irmãos ainda menores que eles. Já estávamos acostumados com a dureza da vida, é bem verdade; mas, naquela época, pelo menos a morte ainda era um fato extraordinário, espécie de contingência com que os pobres tinham de lidar, de vez em quando, para logo em seguida, sem muita perda de tempo, seguir em frente. A sobrevivência era mais urgente do que qualquer outra coisa. Não havia espaço para especulações metafísicas a respeito de qualquer fato que se afastasse da concretude, da dureza da realidade. Por isso não desperdiçávamos muito tempo com um tema como a morte, a menos que ele se impusesse de maneira incontornável, como no caso da guria dentro do buraco ou da morte de meu pai que aconteceu quando eu era muito pequeno para entender ou mesmo formular algum tipo de questionamento. De qualquer forma, ninguém teria sabido me responder, pois vivíamos uma existência desprovida de imaginação e concretada no agora.
A Rita, o Japão e o Igor haviam passado cedo em minha casa, contaram-me que tinham ouvido dizer que alguém encontrara uma pessoa morta, perto da escolinha de futebol, no matinho ao lado. Obviamente estavam se dirigindo para lá e me convidaram a me juntar a eles. Enquanto esperavam escorados no portão de tábuas assimetrias e sem pintura, eternamente entreaberto, numa corrida, terminei de tomar meu café da manhã, que consistia em café preto e bolinhos fritos. Vesti o casaco mais grosso e menos desbotado que tinha, e saímos em disparada para ver o defunto que havia aparecido unicamente para movimentar nosso dia. Durante o trajeto, as mesmas brincadeiras de sempre, ainda um tanto infantis, apesar de já estarmos quase todos entrando na adolescência e do espetáculo macabro a que estávamos nos dirigindo. “Meu tio disse que a guria foi estuprada e morta, naquele matinho, e que o cachorro de uma velha que passeava com ele ali por perto, de manhã cedo, encontrou o corpo”, falou o Igor, forçando o tom de história de terror e tentando potencializar sua fala através de caretas e gestos excessivamente dramáticos. “Que horror! Por isso que a nossa mãe não me deixa sair sozinha à noite ainda. Agora é que ela não vai me deixar tão cedo”, retrucou a Rita. Enquanto seguíamos nos equilibrando no meio-fio e tentando derrubar uns aos outros, meu pensamento ia longe, nebuloso. Eu não sabia muito bem o que pensar de tudo aquilo e provavelmente nem tinha a experiência de vida necessária para elaborar a torrente dos acontecimentos como eles se apresentavam. Assim mesmo, éramos todos, meus amigos e eu, obrigados a aprender a nadar na marra – arremessados nas águas revoltosas de uma existência sempre temerária. Entretanto nem todos conseguiam, alguns submergiam e desapareciam definitivamente.
Na frente de uma borracharia, um homem corpulento – sentado numa pilha de pneus, ao lado de um grande rádio toca-fitas e cercado por pôsteres de mulheres com pouca roupa – ouvia compenetrado a voz empostada do locutor que apresentava, em tom de urgência, as últimas notícias. O Japão se aproximou e, de um jeito surpreendentemente educado, perguntou que horas eram. Então o homem, um tanto irritado, respondeu: “Pô, guri! É nove e meia! E vê se não me enche mais o saco!” O Japão soltou um muxoxo e complementou com um gesto de vai-te-catar, apesar de não ter entendido muito bem o que tinha feito de errado. Nenhum de nós entendeu, na verdade, porém achamos melhor seguir nosso caminho e deixar pra lá. Enquanto nos afastávamos, eu ainda conseguia escutar a voz do locutor, que ia se tornando cada vez mais inaudível: “Continuaremos debatendo as consequências do confisco das cadernetas de poupança por parte do Presidente Fernando Collor de Mello. Não saiam daí! A seguir, uma entrevista exclusiva com a Ministra da Fazenda Zélia Cardoso...”.
O vento gelado, dependendo do ângulo que adotava, tornava-se cortante como uma navalha afiada, o que não chegava a diminuir nosso entusiasmo; porque tínhamos a nosso favor o sol invernal, o céu azul e a brincadeira contínua que ajudavam a aquecer nossos corpos franzinos. Éramos todos muito pouco desenvolvidos para nossa idade. O Japão era um guri de ascendência oriental, muito baixinho, cabeçudo e magro – aliás, formávamos um grupo de crianças cronicamente magras. Ele era o tipo mais exótico de nosso bairro, pois os orientais não costumavam ser muito comuns nos subúrbios. O Igor sempre fora o mais valente, entre nós todos, apesar de ser também o mais magricelo e baixinho. Sua fama estava relacionada ao fato de não levar desaforo pra casa. A despeito de sua estatura diminuta, comprar briga com ele era a certeza de levar uma pedrada na cabeça. É preciso dizer que alguns descobriam isso da pior forma. Como no caso do Catinga, que, após se desentender com ele, acabou levando uma pedrada que o deixou meio louco. Passou várias semanas no hospital e, depois disto, nunca mais foi o mesmo: andava sempre com um capacete de operário na cabeça, observava as coisas com um olhar perdido e falava cada vez menos, até emudecer de vez. A Rita era irmã do Igor. Uma espécie de versão masculina sua. Os dois compunham o exemplo mais perfeito de uma típica família de nosso bairro: o pai, afundado no alcoolismo, há muito deixara de dar qualquer assistência à família; a mãe era quem trabalhava até a exaustão, como empregada doméstica, para tentar sustentar os cinco filhos, enquanto seu marido passava os dias peregrinando de bar em bar. A Rita, é até desnecessário dizer, era como todo o restante do grupo: baixinha e magra, muito menor que as outras gurias. Tinha uns cabelos fininhos e ralos, jeito de guri e – da mesma maneira que seu irmão – era briguenta e encarava qualquer um, mesmo que fosse do sexo masculino, já que tinha aprendido com o Igor a técnica da pedrada.
A escolinha de futebol não ficava muito longe de onde morávamos – cerca de dois quilômetros de caminhada nos separava da guria morta. Trajeto que não demoraria mais do que quinze minutos para ser percorrido. Obviamente demoramos infinitamente mais, perdendo-nos em meio às brincadeiras e às histórias mais fantásticas, contadas com a mais absoluta seriedade. Afinal de contas, fazia parte dos protocolos – subentendidos em nosso vínculo de amizade – ouvir e acreditar nas histórias uns dos outros. Pelo menos enquanto estivéssemos em frente ao narrador. Como quando o Japão contou que seu avô – de quem carregava uma foto, em preto e branco, muito desbotada e quase ilegível, na carteira – era famoso em sua terra natal por conseguir enxergar os mortos que estivessem circulando entre os vivos. Ele nunca soube precisar muito bem o país de onde seu avô tinha vindo – sua mãe contara-lhe apenas que era de algum lugar no oriente, mas não sabia se era da China, do Japão ou da Coréia. A foto que carregava consigo não ajudava muito. Nela podíamos distinguir – com bastante dificuldade e certa dose de boa vontade – somente o vulto de um homem vestindo umas roupas estranhas, com uma calça e algum tipo de casaco mais largos do que estávamos acostumados a ver os adultos usando. O rosto do homem tampouco podia ser entrevisto. Prestando muita atenção, depois de muito debate, chegamos ao consenso de que possuía algum tipo de corte de cabelo não menos exótico. Nada além disso, entretanto.
O Japão, por sua vez, achava que tinha herdado de seu avô tal habilidade. Coisa que, apesar disso, até aquele momento não passava de uma suspeita. Ainda assim, mesmo ainda não tendo podido confirmar, através de sinais inequívocos, tinha a impressão de presenciar fenômenos estranhos de vez em quando. Era uma xícara que caía da mesa sozinha, uma porta que se abria repentinamente. O que mais o deixara assustado, no entanto, foi o que havia acontecido quando – ao se levantar para ir ao banheiro de madrugada – olhou seu rosto no espelho e viu passar um vulto, como uma sombra em movimento, atrás de si. Desde então, não haviam sido poucas as vezes em que mijara na cama, por medo de se levantar e ir até o banheiro. Além disso, era perseguido por um sonho que se repetia incansavelmente. Sonhava que estava perdido num lugar repleto de araucárias, atrás das quais percebia dezenas de olhos muito grandes e curiosos o observando. Logo um homem começava a se aproximar vagarosamente – diria até que com alguma dificuldade – com passos bastante curtos e calculados. Vestia uma roupa semelhante àquela dos samurais dos filmes que havia visto na televisão. Porém, quando olhava em seu rosto, não conseguia distinguir nenhuma forma muito precisa, pois parecia estar fora de foco. Não como numa fotografia distorcida, mas como quando os canais de TV saiam do ar. Mesmo não tendo rosto, conseguia ouvir sua voz que, num determinado momento, repetia: “Estou te esperando. Logo tu irás me conhecer.” O Japão não conseguia mexer seu corpo, nem mesmo sua boca e, por este motivo, não conseguia responder ou fazer nenhuma pergunta. Encontrava-se paralisado, apenas escutando. “Eu já te conheço, sempre estive perto de ti, te observando e ajudando sempre que podia”, continuava o homem, “Mas chegará um momento em que já não haverá mais nada que eu possa fazer”, logo suas palavras começaram a se desarticular e a tomarem a forma de um ruído semelhante ao do canal fora do ar que formava seu rosto. “Talvez tu não tenhas notado..., tudo..., por isso..., cuidado...”, as frases já não podiam ser entendidas, eram apenas um chiado estridente, aumentando rapidamente sua intensidade, tornando-se ensurdecedor. Em seguida, podia avistar árvores caindo ao longe e se precipitando em sua direção como dominós enfileirados. Quando se dava conta, já era tarde demais – um tsunami, que avançava sobre a floresta, o atingia e o engolia por completo. Como não sabia nadar, era levado ao fundo da água e se chocava contra troncos de árvores, vacas que esperneavam e até mesmo carros. No momento em que já estava com seus pulmões cheios de água e asfixiando, experimentava a consciência o deixando gradativamente. Finalmente iria descobrir o que existia do outro lado da concretude tão dura da vida, se existisse alguma coisa. Por outro lado, tinha medo, não queria partir, era ainda muito jovem e não havia conseguido realizar as coisas que desejava. A partir de então, recolhia toda sua força restante e tentava nadar até a superfície, não sem antes voltar ao fundo muitas vezes. Tentava até o limite de suas poucas forças, até que desistia e voltava a afundar definitivamente. Ao sentir que já não podia escapar à morte, acordava sobressaltado, com a respiração ofegante – levantava o cobertor e percebia que estava todo mijado.
Já podíamos avistar uma grande movimentação de pessoas que iam e vinham da mesma direção, tanto sozinhas quanto em pequenos grupos. Para as crianças tudo parecia uma grande diversão: os carros de polícia, do IML, a ambulância. Escutamos duas mulheres, que passavam por nós, dizendo que tinham ouvido dizer que já estava para chegar uma equipe de televisão para cobrir o incidente.
As cercanias do campinho pareciam o lado de fora de algum tipo de show de rock ou de um circo, tamanha era a circulação de gente para ver o corpo da guria morta, alguns tinham vindo de lugares bastante distantes. Não posso garantir com toda certeza, mas tive a impressão de ter visto passar, em determinado momento, até um vendedor de água e de refrigerantes, gritando e oferecendo seus produtos em meio ao povaréu. Estávamos adorando aquele tumulto todo que, para nós, convertia-se no ponto alto de nossas pequenas férias – matéria para histórias que seriam contadas e recontadas durante muito tempo. Quanto mais nos aproximávamos do epicentro do evento, mais densa tornava-se a parede humana de curiosos. Apesar disso, conseguíamos vencer tal obstáculo com estranha facilidade, talvez por causa de nossa constituição física diminuta ou de nossa inquebrantável vontade de chegar ate o corpo da guria. O que importa é que enfim conseguimos atravessar a barreira e chegar à beirada do buraco. Os responsáveis pela perícia do local tentavam afastar, o máximo que podiam, a multidão para realizar seu trabalho. Os profissionais do IML também já estavam no local, porém esperavam para recolher o corpo, que ainda encontrava-se descoberto, oferecendo-se à visão de todos. Não saberia descrever o que cada um de meus amigos sentiu ao se deparar com o corpo de uma guria – aparentemente de nossa idade, morta e com o rosto desfigurado – jogado dentro de um grande buraco causado pela erosão da chuva. Confesso que fiquei um tanto sem reação. Sabia que as crianças morriam, que podiam morrer. Sabia que, por morar onde morávamos, estávamos muito mais expostos do que as outras crianças e adolescentes dos bairros onde nossas mães trabalhavam a semana toda. Mas, pela primeira vez, tal possibilidade tomava contornos muito mais concretos. Tive a impressão de que meus amigos e eu estávamos ingressando num tipo de noite permanente – para qual ainda não estávamos preparados –, sem lanternas, sem lua ou estrelas. Talvez pudéssemos contar (pelo menos naquele tempo parecia possível) apenas uns com os outros. Como se nossos caminhos estivessem interligados e enquanto nos mantivéssemos juntos saberíamos para onde seguir.
Quando me virei para o lado, o Japão estava olhando fixamente em direção ao corpo da guria morta. Parecia não notar a presença daquele monte de gente à sua volta. Sem que ninguém além de mim percebesse, moveu seu par de pernas finas e sua cabeçorra até o outro extremo do buraco e lá ficou parado mais uma vez, meio catatônico, em seu rosto uma expressão gentil congelada. Passados alguns minutos, sem nenhuma explicação começou a mover seus lábios. Se houvesse alguém à sua frente, eu poderia jurar que conversava, de forma contida, porém animada. Gesticulava com as mãos muito juntas ao corpo, tentando explicar algo a alguém que eu não conseguia ver. Por isso resolvi me aproximar e tentar entender o que se passava. Tentei, de modo parecido, não me fazer notar e deslizei sem muitos problemas por entre as pessoas. Ao me posicionar mais perto, consegui distinguir apenas um murmúrio, vindo do Japão, ainda muito pouco audível. Por isso me aproximei ainda mais. “Com quem tu tá falando?”, perguntei a ele, “Não tô vendo ninguém aqui contigo”. Moveu lentamente seus olhos até mim, como se olhasse através de meu rosto, e respondeu: “Tô falando com a guria ali”, e apontou para o buraco, “Não tá vendo? Tô tentando convencer ela a sair dali de dentro”. Ao olhar para o local indicado, tomei um susto: uma garota muito mirrada, mas bastante bonita, sorria timidamente em nossa direção. “Aproveita que tu veio até aqui e me ajuda a convencer ela a sair dali”, falou o Japão com a maior naturalidade. “Tu consegue me ouvir e ver?”, perguntei à guria. “Claro que consigo! Vejo todo mundo. Mas por algum motivo até agora só consegui me comunicar com vocês dois”, falou a guria do buraco onde estava em pé ao lado de seu próprio corpo. “Mas tem alguma coisa diferente contigo”, continuou, “O guri de olhos puxados eu vejo como todas as outras pessoas que estão aqui se agitando à minha volta. Tu, por outro lado, parece ter uma cor diferente: um tipo de azulado translúcido”. O Japão então me olhou, sorriu com o canto da boca e falou meio sem jeito: “Alguns demoram um pouco mais pra se dar conta do que aconteceu e da transformação de sua qualidade. Pelo menos é o que tenho notado até agora, principalmente quando se transformam estando perto das pessoas e das coisas que gostam”. No momento em que terminou sua fala, a guria já estava ao nosso lado. Era alguns centímetros mais baixa do que eu e me analisava com curiosidade. Estendeu seu braço e posicionou ao lado do meu. “Olha! Somos da mesma cor”, falou sorrindo. Eu não estava entendendo muito bem o que se passava – pelo menos naquela época eu ainda não tinha entendido – e estaria mentido se afirmasse que agora compreendo completamente. Existem coisas que habitam um espaço além da fronteira de nossa compreensão, que não carregam consigo nenhum aprendizado comunicável, porque cumprem a função de engrenagem do mundo e se movimentam sem serem percebidas, fazem da invisibilidade sua energia.
A guria tomou minha mão em sua mão esquerda, a mão do Japão em sua mão direita, e atravessamos sem pressa a multidão. Do outro lado, a Rita e o Igor já estavam nos esperando com a mesma alegria de sempre. Contaram-nos que haviam ouvido alguém comentar que, no centro da cidade, um guri tinha sido atropelado. Então seguimos pra lá, em fila indiana, tentando nos equilibrar no meio-fio.
luiz carlos quirino